
A sociedade cada vez mais conservadora, o capitalismo a “estar-se nas tintas” para os trabalhadores, para as mães e para as mulheres, a televisão a dominar o espaço da família, a escola a enraizar os papéis sociais em vez de abrir mentalidades, a aleatoriedade dos prémios literários.
A cinco dias da peça “Vanessa Vai à Luta’ terminar no Teatro da Trindade, a 1 de abril e em dia Mundial do Teatro, que se assinala esta segunda-feira, 27 de março, é tempo de recordar a conversa com a autora de 62 anos, Luísa Costa Gomes, que, tal como a sua protagonista, teve uma arma de brincar em criança e é crítica face à realidade que vê e não tem medo de dizer o que está mal, e o que acha que podia ser feito. Luísa Costa Gomes continua na luta.
![[Fotografia: Orlando Almeida/Global Imagens]](http://www.delas.pt/files/2017/02/luisa-costa-gomes-3.jpg)
Como é ver ‘Vanessa Vai à Luta’ de regresso aos palcos do teatro?
O texto foi escrito em 1995, porque um encenador me pediu para escrever uma peça para miúdos. Em 2005, a Ana Tamen encenou-o de novo, desta vez com dois elencos infantis, no Teatro da Comuna, e foi outra experiência interessantíssima ver como se trabalha com crianças, que é diferente. A Ana fez uma encenação muito cuidada. E agora, esta encenação feita pelo António Pires. É diferente em muitos aspetos. Em princípio, falámos em atualizar algumas coisas, mas cedo percebi que era completamente impossível, contra-natura estar a fazê-lo.
Porquê?
Os temas centrais da peça mantêm-se. Aliás, até se agravaram. Os papéis sexuais na educação mantêm-se e basta ir a um supermercado e ver os brinquedos para as meninas e os brinquedos para os meninos, e é de fugir de horror. Depois de ver a a peça, estive a pensar o que significava brincar e o que significa um brinquedo. Dantes, os brinquedos eram coisas essenciais, muito no osso, e os miúdos imaginavam o resto. À medida que se foram tornando mais realistas, com as vários tipos de Barbies a fazer os vários tipos de coisas, brincar tornou-se numa coisa quase supérflua.
O que vi na peça é que os papéis se mantêm e o reforço também. Numa qualquer família de uma qualquer cidade de província do país real, o que está na peça continua a ser verdade. A menina é menina e usa laçarotes, o único problema e a única diferença é que a menina exige usar laçarote cor-de-rosa.
É terrível ser menina, é o pior anátema possível. Quando são mais masculinas, vivem num ghetto, o LGBT.
Podem ser masculinas sem implicar uma questão de orientação sexual.
Nós sabemos isso, mas as crianças não é isso que veem. Elas veem como, dentro de casa, as pessoas tratam os desvios. Não é lá fora, do politicamente correto. É saber que ainda chamamos ‘ah, ele é paneleiro?’ ou ‘ah, mas ela é quê, fufa?’. Cada vez menos as pessoas toleram a diferença, a confrontação com aspetos que não estão dentro da sua pequenina zona mental.
Como se poderia reverter esta tendência?
Eu não quero nada, as coisas mudam. As mulheres mudando, fazem os homens mudar, estes mudando, fazem-nas mudar a elas, e por aí fora.
Tem de partir dos pais, a escola poderia ajudar?
Tem de ser tudo a ajudar. A escola não se pode demitir, tem um papel importantíssimo na educação sexual, na transmissão dos papéis e na abertura de cabeças, sobretudo em meios em que elas são pequenas. O que é exatamente o contrário do que faz, porque a escola reforça exatamente os esterótipos locais para não entrar em conflito. Tem de ser tudo a puxar na direção correta, o que não é nada o caso.
“A sociedade está cada vez mais conservadora, mais ameaçada, mais fechada”
Ao mesmo tempo, nunca uma sociedade esteve, suposta e aparentemente, tão aberta.
Sim. As vidas que estão expostas ou são aquelas pornográficas – isso é outro aspeto importante da contemporaneidade que é diferente de 1994 e que é completamente mainstream – ou são as que são normais. É ir ao Facebook.
Portanto, escreveria uma peça diferente.
Teria de escrever uma peça nova, diferente. Mudou muito a configuração da vida quotidiana. Não tanto as mentalidades, os papéis, os modelos predominantes na sociedade ocidental para os rapazes e raparigas – que são muito rígidos e ancorados em tradições milenares -, mas o que mudou foi o quotidiano, tudo o que diz respeito à tecnologia, a maneira como as crianças passam o tempo. Em 1994, penso que seria o início deste novo paradigma social que temos hoje. Lembro-me que, nessa altura, começou a discussão do que as crianças viam e não viam, sempre com a preocupação – a meu ver contraditória – de que a programação para crianças era muito infantil, quando eu acho que a televisão é toda ela infantil.
Como assim?
Por um lado, infantiliza as pessoas, por outro, é vista sempre por crianças. Elas não são mandadas sair da sala quando começa um programa sobre pedofilia.
“As crianças que têm hoje 20 anos cresceram a ver Casa Pia, na televisão. Primeiro, viam o programa infantil, depois viam a realidade da Casa Pia – por vezes era dada várias vezes para as pessoas terem mesmo a certeza de que tinham visto. Há toda a violência terrível que a televisão sempre transmitiu, transmite e transmitirá”
O que hoje seria diferente?
A tecnologia invadiu o espaço da família e da privacidade. Hoje, esse espaço desapareceu e é muito mais difícil termos a noção do que era nesse tempo. Com o Facebook, o Twitter, a instantaneidade da transmissão, da opinião, aquela coisa espástica de estar permanentemente online, tudo isso criou configurações de personalidade diferentes.
Que tipos de configurações?
Em 1994, começou de certa maneira – isto que para nós é hoje tabu, indiscutível -, a prevalência da imagem física, da apresentação social, da beleza tal como ela é entendida pelos media e pelo marketing. Nos anos 70, essa prevalência era muitíssimo criticada e as feministas lutaram contra a objetificação sexual, a ideia de que as mulheres têm se conformar com um certo fenótipo, uma imagem social. Hoje é completamente tabu que as mulheres possam escolher a sua maneira de se apresentarem socialmente.
![[Fotografia: Orlando Almeida/Global Imagens]](http://www.delas.pt/files/2017/02/Luísa-costa-Gomes.jpg)
Houve uma maior padronização?
Não só se padronizaram, como elas introjetaram esse protótipo, estereótipo, esse modelo da mulher que não só tem de ter um curso, uma profissão, trabalhar fora de casa, como ser perfeita em todos os aspetos e, sobretudo, na imagem, na sua apresentação física. Tem de ter todas as medidas que lhe permitem ter sucesso.
E o que pode ser feito para contrariar?
Tantas mulheres contrariam. É no fundo fazer o que estamos a fazer. Contrapor a esse esterótipo, a esse pesadelo das barbies – e que hoje é cada vez mais vendido e já faz parte quase do ADN das raparigas – contrapor outros modelos. Não é curiosamente o modelo de Hollywood da heroína ou aquela da ‘Xena, a Princesa Guerreira’: muitíssimo bem maquilhada, toda ela cheia de caracóis e, ainda por cima, dava grandes cargas de pancada nos inimigos. Esse modelo, para mim, não é alternativa nenhuma porque esse é o modelo de Hollywood omnipotente de que a força física é o fundamental e, portanto, as mulheres têm de ser fortes, musculadas, fazerem aeróbica, serem magras. É mais uma conformidade.
As mulheres têm vários pânicos e, do ponto de vista social, continua a ser muitíssimo mal-visto uma mulher que não é feminina.
Na ideia de que o feminino é uma coisa frágil, com umas plataformas, com as unhas, tudo isto são coisas de alta manutenção. Eu tenho uma admiração sem limites pela vida das raparigas profissionais de hoje que, não só têm de fazer todos os itens, da unha ao cabelo, às pestanas postiças, e ainda trabalhar oito horas por dia, terem filhos em casa… a coisa tem de rebentar por qualquer lado.
De forma parcelar, a moda tem tomado iniciativas relativamente ao papel cristalizado das mulheres: por um lado, há o movimento do #nomakeup e, por outro, a procura de entrada de mulheres mais velhas, mais gordas. Isso chega?
O que mudou foi a capacidade do capitalismo incorporar todos os desvios.
Ou seja, não incorporou pelas mulheres, mas pela necessidade comercial de chegar a todos os mercados?
Claro. Sigo a série Girls, da Lena Dunham – que é uma rapariga inteligentíssima – e que está a fazer um trabalho pioneiro na incorporação, mais uma vez, do cânone de beleza. Aquele tipo de configuração corporal é repugnante, é gorda, é uma mulher balofa, é realmente medonha, mas escreve lindamente e a série é interessantíssima e dá essa janela sobre a experiência quotidiana nas raparigas na geração dos 20 aos 30 anos, que é normalmente muito estereotipificada. Porque não há raparigas que tenham aquele tipo de talento para se exporem daquela maneira. Porque a luta continua. Ver como as raparigas continuam a lutar contra os mesmos estereótipos, que ainda se mantêm, é de grande coragem, desfaçatez, de uma grande lata, no caso da Lenha Dunham.

A sua Vanessa poderia ser uma Lena Dunham?
(Pausa) Não sei. Nunca tinha pensado nisso. Dado todo aquele contexto social, aquela mãe, seria uma rapariga bastante dividida. O problema é que as mulheres são muito espertas, são pragmáticas e percebem que ou têm de ser bonitas, ou não têm vantagem competitiva. Essa é que é a horrível perversidade do sistema, as pessoas que querem fazer as coisas nos seus próprios termos, nesta fase do capitalismo, são completamente preteridas.
E as mulheres estão predispostas a aceitar as diferenças de outras?
Não me parece.
Porquê?
Elas sempre foram as suas principais inimigas. Já John Stuart Mill [filósofo e economista britânico] disse, e esta frase fez todo o sentido para mim, que “as mulheres são as primeiras a amar a sua própria opressão”. É uma coisa inexplicável. Mas o que acontece nas sociedades tradicionais – e nós estamos a falar do ocidente que é uma gota de água no oceano da opressão das mulheres – temos todo o oriente… As feministas diziam que as mulheres andaram 150 anos para a frente e os homens ficaram na mesma. Penso que isso já não é verdade.
As gerações têm vindo – não sei muito bem – a conformar-se, mas penso que eles se tornaram cada vez mais misóginos. Sob a capa de compreensão, mas de facto isso vê-se muito nos grupos de rapazes e grupos de raparigas.
Quando saem juntos. Os namoros são muito codificados: o primeiro, o segundo, o terceiro date. A relação entre os sexos transformou-se terreno não mapeado, em que toda a gente está insegura. Sempre foi assim, haver insegurança sempre foi bom.
E o papel dos filmes, das histórias?
O mercado de trabalho e o mercado [em geral] acabaram por determinar muito mais a vida familiar aberrante que temos como sociedade em geral. As mulheres trabalham muito e não têm nenhuma regalia, um desconto. Uma pessoa que tem uma criança de seis meses pode trabalhar até à meia-noite? É uma coisa totalmente aberrante. Uma mãe tem de estar com a criança, as coisas são o que são, tem de estar ao pé da mãe. Se a mãe trabalha, então a criança tem de estar com a mãe. Então, as empresas arranjam um quartinho com uma educadora que está com os filhos dessas mães.
E os pais?
Participam, com certeza, todos. A criança tem de estar com os dois quando é pequenina. Não pode ser depositada até à meia-noite, sabe-se-lá onde. Mas isso é a sociedade que tem de se organizar e dizer que é aberrante e desumano. Não pode ser. É verdade é que há mães e pais com os quais as crianças não devem estar, mas são uma minoria. A certa altura, a vida configura-se de tal maneira e não há princípios, nem boas intenções que nos valham. Nada! Tem de se deitar mão ao emprego, ao trabalho, temos de fazer das tripas coração e toda a gente tem de ajudar.
E a paridade entre sexos como caminho para chegar a um ponto?
Não é uma questão que apareça por direito, mas pelas necessidades da vida. Portanto, aparece pelas razões erradas. Quando essas razões desaparecem, tudo isso também deixa de existir. Há uma injustiça da situação da mulher e da sua natureza – acho que existe uma coisa feminina com os filhos e com a sua disponibilidade, eu sinto isso – que não mudou. Aí a paridade é estar a aplicar a mesma lei a pessoas que são diferentes que têm necessidades diferentes.
Assim como também não percebo como é que as empresas não têm um fisioterapeuta para tratar das costas das pessoas sentadas, e isto quer dizer que o capitalismo se está realmente nas tintas.
Eu estive em casa, as crianças estiveram comigo, mas tive a capacidade e possibilidade de o fazer. Mas se fosse uma pessoa que estivesse das nove às cinco fora de casa, teria de desistir do trabalho. Acho que para as mães muito jovens em geral é dilacerante terem de deixar a criança tanto tempo. Há o sentimento de injustiça. É que dantes diziam-nos que bastava estudar para conseguirmos, mas agora é completamente diferente.
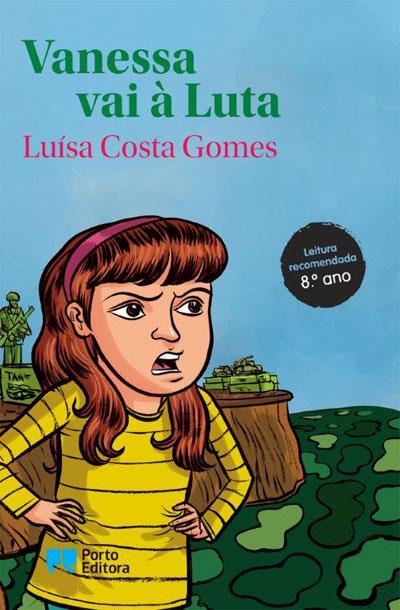
A peça – cujo texto integra o Plano Nacional de Leitura – vai começar a receber grupos de escolas, como gostava que os miúdos olhassem para a peça?
É sobre a liberdade. Não se tornem bullies, não sejam broncos, mongas. Deixem as pessoas serem o que elas quiserem. Como é que uma coisa tão evidente é tão difícil?
O que é que a Vanessa (uma maria-rapaz) faria diferente quando nascesse a irmã?
Ela é tão protetora e é capaz de se transformar ela própria numa mãe para a irmã de forma a protegê-la das chatices. Ela é tão autêntica, tão genuína, acho que teria uma relação de solidariedade, que todas as mulheres deviam ter umas pelas outras e que não têm, de fazer a transmissão para a geração seguinte dos horrores. Penso que ela é tão bem formada que é bem capaz de tomar as rédeas para que a irmã tenha a liberdade que ela sente não ter. Uma geração de transição.
E o Rodrigo, o irmão, transformou-se no quê?
(Risos) Deve ser um colecionador de telefonias como o pai (Risos). Talvez não. As pessoas surpreendem sempre das maneiras mais extraordinárias.
A Luísa tem dois filhos.
Dois rapazes, hoje homenzarrões (sorriso).
Houve algum espelho na hora de escrever esta peça?
Não. Tinha a ver com algumas coisas que eu senti em miúda. Há sempre elementos que tiramos da nossa experiência, escrevemos sobre o que nos interessa, nem podemos fazê-lo de outra forma. (risos).
Também quis uma arma de brincar como a Vanessa?
Adorava o Zorro. E deram-me uma pistola (sorriso). Um coldre, uma pistola e um chapéu, quando tinha para aí cinco anos. Divertia-me imenso (risos), era maravilhoso andar no Silver.
Tinha irmãos?
Um. E ainda tenho. E era uma relação muito forte e percebia que havia ali uma diferença em que eu era tratada como uma rapariga e ele como um rapaz, era assim na minha geração. E a minha mãe era extremamente independente, sempre me encorajou a ser tudo o que eu quisesse, até me empurrava para fazer as coisas. Tive a experiência de ter alguns impulsos destrutivos que não podiam ser exteriorizados, tinham de ser dissimulados com aquilo a que se chama manipulação feminina.
Como por exemplo?
Lembro-me de ter destruído uma boneca ao pontapé. Uma boneca de trapos indestrutível. Lembro-me de estar irritada, deveria ter sido uma injustiça qualquer – eu era sensível a isso – e da minha culpabilidade enorme em relação ao que estava a fazer.
Educou os seus filhos de forma diferente, tendo em conta a sua experiência?
Eduquei, mas não me serviu de nada (risos). Sempre foram completamente rapazes com bola, carros, bicicletas e andar à pancada.
Que projetos tem em mãos?
Queria escrever um livro com textos curtos em que pusesse uma criança a aprender a falar: as dificuldades na aprendizagem da língua, porque é que não há uma palavra para cada coisa, como se conta uma anedota, como sabemos se uma pessoa está a ironizar. Para os pais, uns textinhos que lhes explique o que se está a passar com as crianças. Terei de estudar e escrever várias coisinhas, historietas à volta de dificuldades na aquisição de linguagem, que é posterior à aquisição da estrutura da linguagem. Chama-se Fala Comigo porque é, no fundo, na interação humana que as crianças aprendem o que é ser humano.
![[Fotografia: Orlando Almeida/Global Imagens]](http://www.delas.pt/files/2017/02/Luisa-costa-gomes-4.jpg)
Como escritora, junta linguagens e géneros diferentes. Tendo em conta formas de escrever, histórias de quadrantes que passam a coexistir, como olha para a decisão de entregar o prémio Nobel a um compositor, Bob Dylan?
Não pensei nisso, nem um segundo.
Mas estranha? Houve quem aplaudisse, quem contestasse.
Se eu estivesse no júri, espero nunca estar, faria o possível por dar a um romancista porque eles põe canções dentro dos romances. Portanto, é mais abrangente. Um romance é um sítio onde cabe tudo: canções, aulas de aeróbica, tudo!
Para mim, o romance é o contentor universal, ponho tudo lá dentro. Porque a vida tem muitas coisas.
Eu cá escrevia as canções, a vida do tipo que escreve canções, a vida a mãe do tipo que escreve as canções (risos). O Dylan é um grande poeta, mas quantos poetas há? O que me desmobiliza é a total arbitrariedade dos prémios. Todos.
Tem recebido muitos ao longo da vida.
E fico muito contente. Mas posso ser eu ou outra pessoa qualquer. É completamente aleatório e as pessoas têm de introjetar isso. Não sou melhor, nem pior do que outra pessoa qualquer. Por acaso calhou um júri gostar do meu livro, caiu-lhes bem e não sei porquê. Mais das vezes não havia competição que justificasse.
Nos últimos prémios havia.
Mas já tinham ganho tudo e mais alguma coisa.
Não liga a prémios?
Gosto imenso de receber. Adoro. Quando o Vasco Graça Moura me ligou, fiquei tão contente, tão contente, deu-me tanto jeito o dinheiro… Já vou poder fazer obras, pensei… já o gastei. Não tem nada a ver com ‘esnobar’ os prémios, é um reconhecimento super-simpático, mas posso ser eu a premiada como pode ser outra pessoa qualquer.
Não teme que sintam que o reconhecimento entregue não é valorizado?
Claro que é valorizadíssimo. Não estou é a dizer que por me darem um prémio eu possa ser melhor. Fico exatamente na mesma. Lembro-me de uma vez ter falado com o William Golding [O Deus das Moscas], que é prémio Nobel, e ele disse-me que tinha sido fantástico receber, mas no dia seguinte tinha de se sentar para escrever outra vez. Não mudou nada na vida dele. Pode parecer pernóstico ou pedante, mas o que faço é escrever, é a coisa que mais adoro e é o que vim cá para fazer.
Prémios? São uma alegria! Mas no dia seguinte estou a escrever outra vez. Não pensem que me param (risos). Fico tão contente que reconheçam, mas não me tira a noção de que poderia ser eu ou outra pessoa.
O reconhecimento é importantíssimo, quando o júri é composto por pessoas que reconheço. Também perco imensos prémios e não fico chateada.
Para lá do livro para crianças, o que prepara agora?
Cada vez trabalho menos, já perdi aquela urgência. A altura da vida em que mais escrevi foi quando tinha os meus filhos pequenos, e era eu que tratava deles, ainda tinha a casa e escrevia desalmadamente. Tinha 30 anos, não tinha 60. Mas as crianças, curiosamente, puxavam. Hoje, não sei. Estou a tentar escrever um romance que comecei há dois anos e estou a gostar imenso. Cada vez mais tenho mais vontade de escrever e pouca vontade publicar.
Porquê?
Não gosto. Gosto de estar naquela marmelada (risos), de ir fazendo a história, como se fosse a manta da Penélope. Não tenho aquela coisa dos jovens, de publicar de dois em dois anos. E olhe que não estou muito atrasada, o último foi em 2014.











